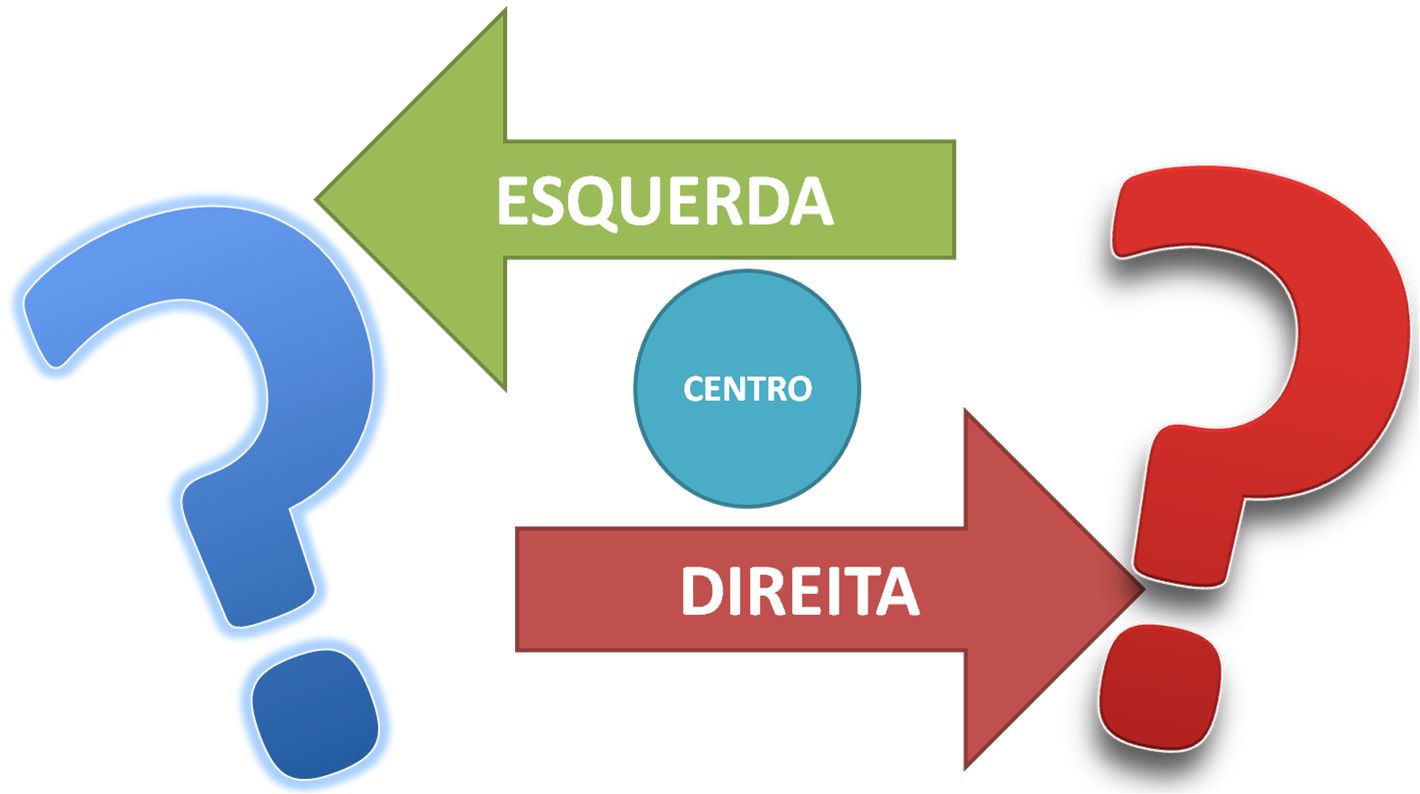“Por que o centro não existe
Por Fernão Lara Mesquita
Esse nada do bolsonarismo x lulismo em que andamos vagando é
o resultado da vitória da censura. A razão de ser do bolsonarismo é o lulismo e
a razão de ser do lulismo é o bolsonarismo. Um existe como a negação do outro e
os dois se equivalem e se anulam.
O diabo é que o centro não existe porque não sabe o que
querer. Os social-democratas, portadores da síndrome do “renegado Kautsky”,
nunca se livraram do “pecado original” que lhes permitiria existir por si
mesmos. São a eterna sombra da esquerda antidemocrática dona do corpo que a
produzia e que agora está morta. E os liberais made in Brazil simplesmente não
têm no mapa a vasta planície que existe entre os dois abismos que assombram
seus sonhos, o da presente iniquidade institucionalizada e o da anomia em que
temem que o País caia se sair disso para o que lhes parece território incerto e
não sabido. Faltam escola e jornalismo que dê a conhecer a ambos a hipermapeada
solidez e a lógica prosaica da alternativa democrática real em funcionamento no
mundo que funciona.
O Brasil das vilas perdidas do sertão que, no seu
isolamento, tiveram de se auto-organizar para prover todas as suas necessidades
praticou por 300 anos a “democracia dos analfabetos”, elegendo com pacífica e
ininterrupta regularidade as lideranças da sua organização para a
sobrevivência. Mas foi subitamente arrancado dessa sua “americanidade”.
Tiradentes foi o último impulso de descolamento das velhas doenças europeias
emitido por esse nosso DNA histórica e geopoliticamente democrático antes de
elas passarem a nos ser instiladas de dentro, a partir de um Rio de Janeiro que
purga até hoje o trauma do estupro em plena adolescência por uma monarquia
decadente e corrupta no momento mesmo em que a democracia ensaiava os primeiros
passos da sua terceira caminhada pelo planeta. Desde então temos sido
cirurgicamente excluídos da trajetória dela...
O governo bipartido entre os Bolsonaros e o time de Paulo
Guedes e Cia. corporifica essa dualidade. Ele é o filho tecnocrático importado,
mas órfão do pai político e ideológico que o fez nascer nas democracias que
fixaram a inviolabilidade da pessoa como o ponto de partida e de chegada de
todas as ações do Estado e a hegemonia da iniciativa individual sobre a
pesporrência de uma “nobreza” corrupta na busca da felicidade geral da Nação.
Falta a humildade para importar o pai da experiência humana para a experiência
brasileira, como têm feito os asiáticos e o resto do mundo que vai pra frente.
A ciência moderna só pôde estabelecer-se a partir do momento
em que o dogma imposto pelo terror da “ira divina” passou a ser “protestado”.
Mas onde a Contrarreforma, armada da Inquisição, fincou pé os “terraplanistas”
da política seguem com sua furiosa campanha contra as vacinas institucionais
que há mais de 200 anos fazem despencar a incidência de miséria onde quer que
sejam aplicadas.
O Brasil é refém de um “Sistema” fechado em si mesmo,
ancorado num passado que está morto e hermeticamente blindado contra qualquer
eflúvio de renovação. E o monopólio da oferta de candidaturas ao eleitorado
atribuído aos partidos políticos, recém debatido no STF, é a peça fundamental
dessa blindagem. Nada na nossa ordem partidária e eleitoral tem o propósito de
reproduzir fielmente o País real no País oficial, o pressuposto básico da
constituição de uma democracia representativa. O único objetivo do “Sistema” é
autorreproduzir-se e prevenir a ferro e fogo qualquer hipótese de surgimento de
concorrentes.
Que os seus sumos sacerdotes fulminem qualquer dissidência
no altar do STF com a invocação da letra da sua própria lei e os seus
inquisidores eletrônicos corram o reino prometendo o fogo do inferno a quem
ousar desafiá-la não põe nada de novo sob o sol. Toda igreja, da primeira à
última, acenou com o seu céu para impor o seu inferno. Mas quando ouço a
afirmação de que candidaturas avulsas seriam “obras individuais” que “atentam
contra a democracia representativa e o Estado Democrático de Direito” tento
convencer-me de que se trata apenas de um equívoco acaciano e não consigo.
Tais candidaturas seriam atentatórias ao Estado de Direito
se, como os nossos partidos, fossem sustentadas pelo Estado à revelia do que
pensam delas os eleitores. Posta num contexto histórico então essa condenação
emparelha, em matéria de anacronismo, com a afirmação em pleno terceiro milênio
de que a Terra é plana e o resto do Universo é que gira em torno dela. Afinal,
a própria Constituição de 88 confessa seu dolo “ao exigir filiação partidária e
fazer depender o exercício do direito de se candidatar de uma aceitação prévia
de seus pares”, e não da aceitação prévia dos eleitores, como acontece em todas
as democracias sem aspas, que não apenas aceitam e incentivam candidaturas
avulsas independentes, como também, para prevenir a apropriação indébita da
vontade do povo, da qual todo poder emana, impõem aos partidos regras internas
permeáveis de apresentação de candidaturas a serem decididas em eleições
prévias diretas.
A cura do Brasil, assim como historicamente se deu com
outras democracias que se curaram antes da nossa, passa necessariamente pela
instituição de eleições distritais puras, as únicas a proverem uma
identificação à prova de falsificações entre representantes e representados,
pela aceitação de toda e qualquer candidatura que o povo chancelar, pela
despartidarização completa das eleições municipais, tanto porque não faz
sentido misturar ideologia com a gestão técnica da infraestrutura das cidades
quanto para encurtar o espaço dos proprietários de partidos políticos, pela
imposição de primárias diretas das eleições estaduais para cima e, finalmente,
pela instituição dos direitos de recall, referendo e iniciativa legislativa
para os eleitores manterem seus representantes sob rédea.
Isto porque – é claro como o sol! – democracia existe quando
é o povo quem manda. Na outra ponta estão as venezuelas e as cubas da vida. E
no meio, isto é, no nada, boia o Brasil junto com outros náufragos.”