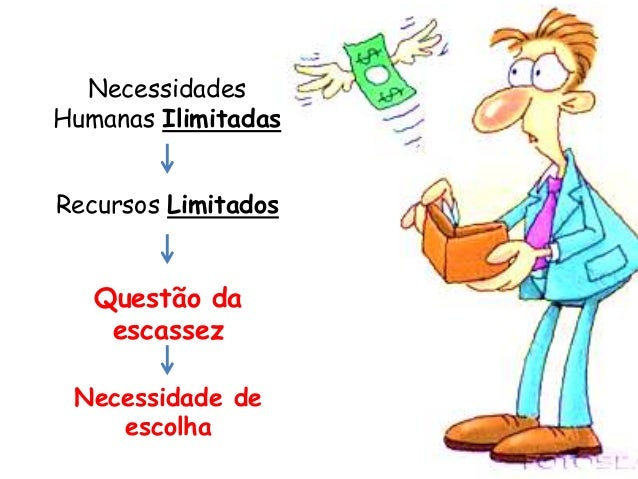“O baixo mundo
Por J.R.Guzzo
O Brasil está divido por uma
guerra cada vez mais aberta, indigna e agressiva entre dois países. Na verdade,
só um país move essa guerra; o outro, sem defesa, apenas sofre as misérias que
vêm dela. Basicamente, o país agressor, que se recusa a qualquer trégua, é o
Brasil onde habitam, prosperam e mandam os membros das nossas “instituições”. O
país agredido é aquele onde você, e cerca de 200 outros milhões de brasileiros,
têm de trabalhar todos os dias para viver e sustentar suas famílias; sua única
função, para o outro Brasil, é pagar impostos que vão sustentar cada um dos
seus confortos, necessidades e caprichos. Neste ano de 2020, antes da epidemia,
estava previsto que o total a ser pago seria de 3,4 trilhões de reais – isso
mesmo, trilhões, arrancados do seu bolso a cada chamada de celular, cada litro
de gasolina comprado no posto, cada real que você ganha, num arco que só acaba
no infinito.
A última agressão vem do Supremo
Tribunal Federal, que tem a folha corrida que todos conhecem, e do “Tribunal
Superior Eleitoral” – um desvairado cabide de empregos que só existe no Brasil
e não tem função lógica nenhuma no serviço público. Suas Excelências, justo
numa hora dessas, em que o Brasil sofre um dos mais chocantes dramas de saúde
de sua história e se desespera em busca de recursos para combatê-lo, tiveram a
ideia de pagar com o dinheiro do contribuinte suas vacinas contra a gripe e o
coronavírus. Não só eles: eles, seus filhos e funcionários da nossa corte
suprema. Serão, pelos cálculos iniciais, 4.000 vacinas, a um custo de R$
140.000. O TSE, de imediato, copiou os colegas e já está se preparando para
comprar 1.100 vacinas para si próprio; devem queimar nisso mais uns R$ 75.000.
O dinheiro é uma mixaria, dizem
eles, mas a atitude moral dos ministros é uma calamidade. Com todos os
privilégios que já têm, por que não pagam eles mesmos esses trocados? A
resposta é um retrato perfeito dos dois Brasis descritos acima: não pagam
porque podem meter a mão no seu bolso, de onde sai o dinheiro de todos os
impostos, e tirar o dinheiro de lá. Não vai acontecer nada, vai? Então porque
gastar, mesmo um centavo, se existe um país inteiro para pagar as suas contas?
A um certo momento, nessa crise
toda, foi sugerido, imaginem só, que deputados e senadores, dessem para o
combate ao coronavírus uma parte dos bilionários Fundos Eleitoral e Partidário
que criaram para doar dinheiro a si próprios – tirado, é óbvio, dos impostos
pagos por você. Santa inocência. Não deram, é claro, um tostão furado para
combater doença nenhuma. Estás na fila do SUS há 12 horas esperando um
atendimento que pode vir ou não vir, bonitão? Problema seu. No nosso ninguém
tasca. E tratem de dar graças a Deus porque ainda não tivemos a ideia de lhe
tomar mais uns trocos para fazermos nosso estoque de vacinas – como fizeram as
maravilhosas instituições judiciárias aí do lado.
Este Brasil que está em guerra
com os brasileiros é hoje um dos maiores concentradores de renda do mundo. Não
são os “ricos”, os “empresários”, “o 1% do topo”, etc. que constroem a miséria
nossa de cada dia. Não são eles os promotores da desigualdade em estado extremo
no País. Não são eles que os impõem a ditadura dos privilégios. É essa gente
que não admite, sequer, pagar a própria vacina. A imprensa faz esforços
inéditos, todos os dias, para defender essa gente, pois são eles que compõem as
“instituições”. E o que os jornalistas recebem em troca de congressistas e
magistrados? Atos de crocodilagem explicita, um atrás do outro. Fica cada vez
mais difícil achar alguma virtude nesse baixo mundo.”