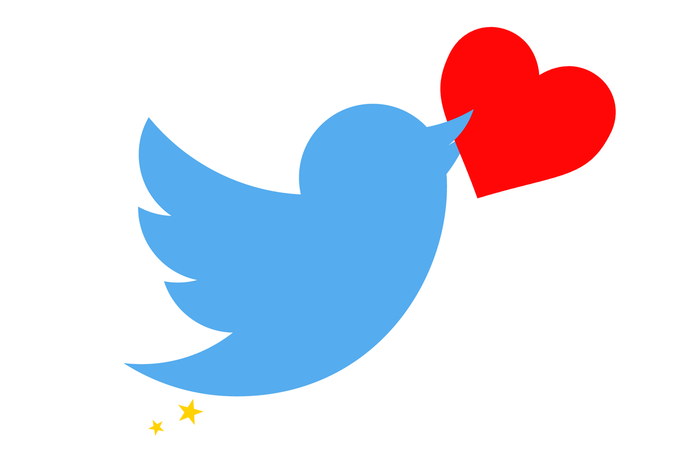“Mais do mesmo
Por William Waack
É um dos movimentos mais
“naturais” na política alguém ocupar o lugar que um outro deixou. No fundo, é o
que está acontecendo na mais recente manifestação de queda de braço entre o
presidente Jair Bolsonaro e o Legislativo em torno da manutenção ou não do veto
do chefe do Executivo a itens da peça orçamentária votada pelos parlamentares.
Traduzido: o que está em disputa
é quem manda quanto no Orçamento. E, se Jair não percebeu antes, nesse ano e
pouco de seu mandato, o Legislativo encurtou bastante a capacidade do Executivo
de dispor da alocação de verbas por meio do Orçamento – além de limitar
consideravelmente a utilização de medidas provisórias.
Trata-se de pura e simples
redução de poder do presidente. Que se pode aplaudir ou detestar, mas não
ignorar que esse fato resulta em boa parte do que se aponta há meses: a
incapacidade ou o desinteresse (ou ambos) do governo em montar no Legislativo
uma tropa bem coordenada. Bolsonaro não se livrou da regra do jogo do sistema
de governo brasileiro, que opõe a um chefe de Executivo forte um Legislativo
cheio e cada vez mais cheio de prerrogativas.
Sem ter nunca contado com uma
articulação política eficaz, Bolsonaro agora escalou militares de cabeça bem
organizada e acostumados a método e disciplina (além de hierarquia) para cuidar
de acordos políticos que o próprio presidente propõe, depois se arrepende. É o
caso nesta mais recente disputa: Bolsonaro achou que podia deixar o Congresso
derrubar seu veto (ou seja, entregaria mais uns R$ 30 bilhões do Orçamento aos
parlamentares), num grande “acordo” do qual foi convencido a se arrepender.
O que neste momento o move a
peitar o Congresso é a exasperação da equipe econômica e mais o general Heleno,
cansados das chantagens da política e das dificuldades para seguir adiante com
uma ampla ação de reformas que dependem do Legislativo. O ministro Paulo Guedes
está com sangue nos olhos, e promete não liberar dinheiro para deputados se
eles seguirem no propósito de tolher o Executivo em questões orçamentárias.
Para efeitos práticos, colocou Bolsonaro diante de “ou eles ou eu”.
Ocorre que a efervescência do
teatro político brasileiro “estabilizou-se” e não surpreende nem comove mais
ninguém. Virou normal. Um exemplo: por vários motivos, sendo o principal deles
obter vantagens eleitoreiras das mais imediatas, o presidente abriu conflito
com os governadores quando depende em boa medida deles para a grande
articulação política de um projeto de enorme peso, que é o da reforma
tributária. Para que mais uma briga, boceja-se.
E a cafajestice, injustificável
sob qualquer ponto de vista, proferida contra uma profissional da imprensa
(frente à qual obviamente ele tem o direito de manifestar todas as queixas,
críticas e reclamações que quiser), reafirma que o estilo é o homem, e não vai
mudar. Não está no seu horizonte ser chefe da Nação. É uma das sólidas
constantes no nosso teatro político (a outra é a força do lavajatismo), e esse
tipo de atuação será considerado a causa do seu êxito ou fracasso, dependendo
fundamentalmente de como a economia se comportar.
Neste contexto vale a pena conferir
como plateias de investidores estrangeiros estão apreciando nosso espetáculo.
Tal como reportado por diversas instituições financeiras, visto de fora, o
Brasil se tornou monótono. Não se consegue discernir, depois da aprovação da
reforma da Previdência, qual é, afinal, o ponto prioritário para o governo.
Considera-se que o País (em contraste com alguns emergentes, como a Argentina)
está no “caminho certo”, mas não se disfarça certo ceticismo quanto à
capacidade de “entrega” no necessário ritmo mais acelerado por parte da equipe
econômica.
Diante de um país que teria tanto
para oferecer, e para crescer, e para resolver, os estrangeiros estão dizendo
que estamos nos esforçando para sermos um pouco mais do mesmo.”