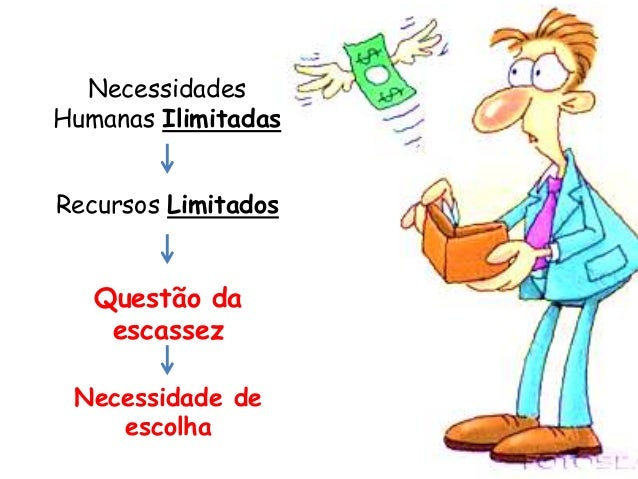“Farinha pouca, meu pirão
primeiro
Por Elena Landau
Já tinha passado dos 40 anos
quando resolvi fazer uma segunda faculdade. Busquei uma outra área, o Direito.
A economista, que olhava contratos de concessão como algo bem objetivo, com
poucas margens para dúvidas, aprendeu no Direito que havia muita subjetividade na
interpretação de cláusulas e conceitos. A insegurança jurídica, e regulatória,
é muitas vezes apontada como uma das principais causas do baixo investimento
privado em setores como infraestrutura, cujo retorno se dá no longo prazo e
depende da aplicação correta das cláusulas contratuais. Reduzir esse risco não
tem sido fácil.
Por sua vez, meus colegas do
Direito não gostavam muito do curso de Economia que eram obrigados a
frequentar. Reclamavam dos gráficos, das equações e, especialmente, da sua (in)
utilidade para futuros advogados. Apaixonada pela minha profissão, resolvi,
então, retomar a vida de professora e fui dar aula de Economia para o Direito.
A primeira aula dava a base de todo o curso. Gráficos de juros, moeda e câmbio
foram colocados de lado e no lugar apenas duas perguntas deveriam ser
respondidas em todos os exercícios: quanto custa e quem paga a conta?
Com base em conceitos econômicos
simples, sentenças e acórdãos eram analisados, sempre com o mesmo olhar: o que
dizia o contrato e a lei; o porquê da necessidade de regulamentação; e, a
depender da decisão, sobre quem recaia o ônus. No curso, a ideia de restrição
de recursos era a mais relevante a passar.
A análise econômica do Direito é
importante. Pela regra do regimento interno do STF, assistentes dos ministros
devem ser bacharéis em Direito. Não há previsão para assessoria de economistas,
que poderiam ajudar a responder quem paga a conta.
Há poucos dias, o presidente do
STF, ministro Dias Toffoli, requisitou uma reunião com o ministro Guedes para
defender que o Judiciário não seja obrigado a cumprir o limite estabelecido
pelo teto de gastos. O teto ajudou a melhorar expectativas, reduzir juros, e,
mais importante, mostrar à sociedade que escolhas precisam ser feitas. Que o
espaço para políticas públicas está limitado pela capacidade do governo em se
financiar, seja via impostos, seja via dívida.
No apagar das luzes de 2019, o
Executivo usou uma brecha na lei do teto – pela regra não é contabilizada a
capitalização de estatais não dependentes – e aportou quase R$ 10 bilhões em
três empresas, expandindo gastos primários. Uma iniciativa ruim que termina por
estimular outros segmentos a pedir tratamento especial. O teto deve ser mantido
para todos.
Com a gravidade da crise fiscal –
são seis anos seguidos de déficit primário – os economistas estão preocupados
com as decisões judiciais que afetam diretamente as contas públicas,
especialmente as do STF, a última instância. A preocupação é legítima. Os
exemplos dos últimos anos são muitos. Vão desde a suspensão do programa de
privatização, em decisão monocrática de Lewandowski, que contrariava
entendimento da própria Corte, ao enfraquecimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) e, agora, o questionamento do próprio teto dos gastos impostos pela
EC 95/2016. Há hoje no STF sete ADIs (ações diretas de inconstitucionalidade)
contra o teto. É preciso estar atento.
Casos de liminares para suspender
a execução de garantia pela União são frequentes. Estados e municípios alegam a
impossibilidade de cumprir com os termos do acordo feito com o Tesouro e a
própria LRF. Raramente, o magistrado se pergunta como se chegou a essa situação
de calamidade. Sem olhar para o todo, acabam, sem intenção, incentivando
políticas de gastos irresponsáveis. Hoje, 11 Estados estão com gastos de
pessoais acima de 60% da receita líquida, que é o limite previsto pela LRF, e
20 estão acima do limite prudencial de 57%. Assim, uma das mais importantes
iniciativas para controlar as contas públicas foi perdendo sua eficácia ao longo
dos anos.
Recentemente, Toffoli, em
julgamento da ADI 6257, concedeu liminar liberando o subteto para funcionários
de Estados e municípios. Bate de frente com os esforços que alguns
governadores, especialmente na gestão dos gastos de pessoal, vêm fazendo para
reverter um quadro de terra arrasada que receberam.
O ministro escolheu sua
prioridade: igualar salários de professores universitários estaduais e
federais. Outros ministros poderão escolher as suas. E, aos poucos, os
controles vão sendo esgarçados. Abrir exceções para quem tem acesso ao sistema
judiciário prejudica os que estão fora dele, exatamente os que mais precisam de
recursos públicos. “