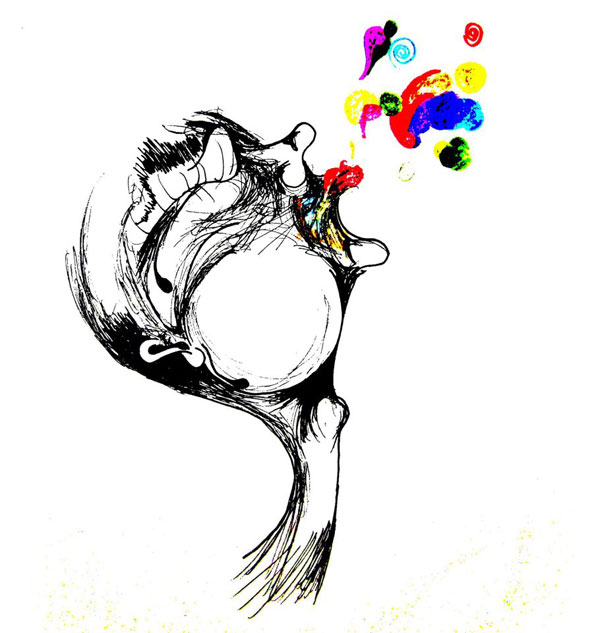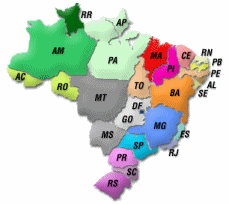“Ministros normais
Por William Waack
Jair Bolsonaro foi eleito para enfrentar dois superproblemas
do Brasil: dívida e crime. Para fazer a economia crescer (o melhor jeito de
enfrentar a dívida trazida pela tragédia fiscal) e para inverter as trágicas
taxas de criminalidade (com lei, ordem e combate à corrupção), o capitão
escolheu dois superministros, Paulo Guedes na Economia e Sérgio Moro na
Justiça.
Atualmente, os desafios continuam na categoria “super”, mas
os dois ministros, nem tanto. De fato, eles lidam com problemas de enorme e
profundo alcance, que não se resolvem da noite para o dia nem há uma só medida
isolada capaz de dar conta do recado. Além disso, os ex-super enfrentam um
sistema de governo que funciona muito mal, e que a crise fiscal (acabou a
grana) contribuiu para tornar ainda mais paralítico.
Mas seria injusto com os fatos da realidade atribuir a perda
de status dos superministros ao Legislativo (e à tal “classe política”). Uma
parte importante dos problemas políticos que os dois – agora normais –
ministros enfrentam está no fato de o chefe do Executivo utilizar de forma
precária e errática uma de suas maiores ferramentas de poder: a de determinar a
agenda da própria política.
Dois exemplos recentes ilustram esse fato. Na seara de
Guedes trata-se da reforma tributária, uma espécie de grito que se ouve ecoar
em todos os níveis da Federação, em todos os segmentos da atividade econômica.
A Câmara dos Deputados examina há pelo menos quatro anos uma proposta de
simplificação. O Senado também. Surgiu mais um projeto de reforma, que seria do
Executivo. Mas qual é ele, exatamente?
A volta de um imposto sobre transações financeiras? Um
projeto acoplado à negociação política para abrandar a terrível crise fiscal de
mais de uma dezena de Estados da Federação? Quem vai convencer o setor de
serviços a pagar mais impostos? Como acertar com governadores, prefeitos e
representantes de vários segmentos da economia compensações por diminuição de
arrecadação ou fim de subsídios, desonerações e incentivos? E o que quer o
presidente da República, afinal?
O segundo exemplo é o pacote anticrime de Sérgio Moro. A
discussão política sobre o pacote acabou presa à reação de boa parte do
Legislativo, ao próprio Moro, ao movimento apelidado de lavajatismo e à ação da
PF contra o líder do governo no Senado, reação que se expressou na aprovação de
uma lei contra o abuso de autoridade e posterior derrubada, pelo Senado, de
vetos presidenciais à lei – vetos, em parte, negociados com o próprio ministro
da Justiça. Fora o clima de comoção nacional em consequência da morte da menina
Ágatha no Rio, um contexto no qual acabou prevalecendo no Legislativo (e em boa
parte do público) a percepção de que a aprovação do pacote anticrime levaria a
mais tragédias daquele tipo.
Também em relação a este segundo exemplo a conduta do
Executivo levanta indagações. Afinal, Moro e os agentes anticorrupção têm
carta-branca ou a conduta de Bolsonaro sugere, ao contrário, a imposição de
limites aos órgãos investigadores, em parceria informal com o que parece ser
uma nova maioria hoje “garantista” e “antilavajatista” no STF, algo que traria
ao presidente conforto pessoal ainda que nem tanto conforto político?
Quando se trata de examinar como o Legislativo se conduziu
frente aos dois grandes superproblemas – crime e dívida –, impõe-se sozinha a
constatação de que uma base sólida e bem coordenada do governo teria facilitado
a tarefa dos ex-superministros, dos quais se sabia de antemão que lhes faltava
a experiência da costura e da articulação nos termos em que se dá a política em
Brasília. Essa falta de experiência política estava em todos os cálculos. O que
não se calculava é que o Executivo fosse ser supererrático.”